"Se desejamos tirar conclusões filosóficas a respeito de nossa existência, nosso significado e o significado do Universo, as conclusões devem ser baseadas em conhecimento empírico. Ter uma mente realmente aberta significa forçar nossa imaginação a se conformar com a evidência da realidade, e não o contrário, quer gostemos, quer não das consequências." - Lawrence M. Krauss - Um universo que veio do nada
A
crise da metafísica estende-se por um período na história da filosofia; mais
especificamente quando esta disciplina tem os seus princípios
criticados e, de uma forma efetiva, colocados em questão. O processo, todavia,
não ocorre em curto espaço de tempo e não é causado por um só pensador.
No
final do período medieval a filosofia tomista, desenvolvida por Tomás de Aquino
(1225-1274) e dominante desde o século XIII até o século XVI, perde sua hegemonia
e passa a ser abalada (este o destino de qualquer escola filosófica) em seus
diversos aspectos. Um dos primeiros pensadores críticos da filosofia da Baixa Idade Média foi
o inglês Roger Bacon (1210-1294). Para este franciscano, são três as fontes do
saber: a autoridade, a razão e a experiência. Em suas obras, sempre deu ênfase
ao empirismo e à matemática, tendo sido o primeiro pensador ocidental a empregar
a expressão “leis da natureza”. John Duns Scotus (1265-1308) foi um dos
primeiros críticos especificamente do pensamento tomista. Segundo Scotus as verdades da fé não
poderiam ser compreendidas pela razão. Por esse motivo, defendia uma separação entre a
filosofia e a teologia. Sua ênfase nos aspectos volitivos da fé contribuem para
que gradualmente a razão perca sua força para demonstrar aspectos da religião,
isto é, da metafísica. Guilherme de Ockham (1285-1347), discípulo de Scotus, dá
o passo seguinte nessa crítica, enfatizando que o conhecimento empírico é
superior ao intelectual.
Vemos
neste movimento o desenvolvimento do experimentalismo inglês, cujos mais importantes representantes atuavam na
Universidade de Oxford. A experiência torna-se cada vez mais importante,
abrindo caminho para o empirismo e o enfraquecimento dos diversos conceitos
metafísicos. Idéias como "Deus" e "alma", não sendo sensíveis, não poderiam ser
cognoscíveis. Da mesma forma que não são experienciáveis as noções de "substância", derivadas da filosofia aristotélica e incorporadas no tomismo.
No
século XV e XVI aumenta a disponibilidade de traduções de textos da Antiguidade
grega e romana, popularizando entre a elite letrada autores clássicos da
filosofia, como Platão e Aristóteles, e textos de escolas do período do
helenístico. Pensadores das escolas atomista, epicurista, cética, cínica, cirenaica
e filósofos romanos; todos desconhecidos durante a maior parte da Idade Média, tornaram-se acessíveis aos humanistas da Europa renascentista. Grande parte
destas escolas não se ocupava da metafísica, dando mais atenção à ética,
à lógica e à física.
Outro
aspecto da gradual erosão da metafísica clássica é o surgimento da ciência
teórica e do método experimental no século XVI e XVII, com Leonardo da Vinci
(1452-1519); Galileu Galilei (1564-1642); Francis Bacon (1561-1626) e René
Descartes (1596-1650), entre seus principais teóricos. Descartes, filósofo
francês, foi o introdutor da moderna filosofia (metafísica) e da moderna
matemática aplicada aos experimentos científicos. Na Inglaterra, desde o final
do século XIV, desenvolve-se uma corrente de pensamento com forte tendência
empirista contrária à metafísica, estendendo-se de John Duns Scotus, Guilherme
de Ockham, passando por Francis Bacon e Thomas Hobbes (1588-1679) até chegar a
John Locke (1632-1704) e David Hume (1711-1776).
A
metafísica antiga e medieval, desenvolvida por Aristóteles e mantida em grande parte inalterada pelos pensadores da Idade Média, baseava-se no pressuposto de que a
realidade existe em si mesma e assim se apresenta ao pensamento, à razão. No
século XVII, Descartes reformulou as bases da moderna filosofia e com isso
criou a moderna metafísica ou metafísica clássica. Esta estava baseada na ideia
de que a mente humana ou razão poderia conhecer a realidade através de
raciocínios ou conceitos, que representando as coisas, as transformam em
objetos de conhecimento. Em suma, a mente com o uso da razão poderia conhecer a
realidade. Descartes em sua obra Discurso sobre o método, estabeleceu que
a razão humana pode apreender a realidade, baseada no fato de que um ser
infinito (Deus) garantia a realidade e sua inteligibilidade.

Hume,
tendo como base a teoria do conhecimento, argumenta que o pensamento atua
fazendo a associação de sensações, percepções e impressões, recebidas pelos sentidos
e guardadas na memória. Assim, continua Hume, as idéias nada mais são do que
hábitos mentais que operam baseados em associações de impressões semelhantes e
sucessivas. A própria noção de causalidade é negada, não passando de um hábito
repetido diversas vezes por nossa mente e levando-nos à crença de que há uma
causalidade real.
A
crítica de Hume foi devastadora. Com ela perdem valor todos os conceitos da
metafísica – Deus, alma, infinito, mundo, céu, perfeição, etc. – já que não
passam de constructos mentais e não
tendo nenhuma realidade objetiva. As idéias do pensador inglês demoraram
algumas décadas para serem amplamente divulgadas entre outros filósofos
europeus, mas desde então a metafísica como existia desde os gregos não era
mais possível.
O
filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804), ao ler o Tratado da Natureza humana de Hume, afirmou que este o havia
“despertado do sono dogmático”, isto é, de sua crença inquestionável na
metafísica clássica. Com isso dá início a uma crítica da razão teórica, ou
seja, um estudo para determinar o que a razão pode ou não efetivamente
conhecer. O filósofo realiza uma verdadeira “revolução copernicana” na
filosofia, estabelecendo que não é a realidade que determina nossa maneira de
pensar, como Hume argumenta, mas que é nossa maneira de pensar que determina a
realidade. Através das formas a priori de
sensibilidade (aquelas que existem antes da experiência) e dos conceitos a priori do entendimento, Kant demonstra
que existem dois tipos de realidade: a) aquela que apreendemos através dos
nossos “filtros” apriorísticos, os chamados fenômenos e b) a que é
inapreensível à experiência e que Kant chama de noumeno. Sendo este noumeno ou
“coisa-em-si o objeto da metafísica, então esta não é possível. Segundo escreve
Marilena Chauí sobre este assunto:
A idéia metafísica de um
Deus é a idéia de um ser que não pode nos aparecer sob forma de espaço e tempo;
de um ser ao qual a categoria de causalidade não se aplica; de um ser que,
nunca tendo sido dado a nós, é posto, entretanto, como fundamento e princípio
de toda a realidade e de toda a verdade. Assim, a idéia metafísica de Deus
escapa de todas as condições de possibilidade do conhecimento humano e,
portanto, a metafísica usa ilegitimamente essa idéia para afirma que Deus existe
e para dizer o que ele é. Kant emprega uma argumentação semelhante para dois
outros objetos da metafísica: a existência da alma ou substância pensante e a
discussão da finitude ou infinitude do mundo.” (Chauí, p. 200).
 A
partir de Kant a metafísica deixa de ser realista (a realidade pode ser
conhecida pelos sentidos) para se tornar idealista, ou seja, “a realidade
estruturada pelas idéias produzidas pelo sujeito” (Chauí, p. 201). A escola
idealista terá como seu maior representante o filósofo alemão Georg W.F. Hegel
(1770-1831) e ao longo do século XIX terá como opositora a escola de pensamento
materialista (Karl Marx, Ludwig Feuerbach, Friedrich Nietzsche, entre outros).
A
partir de Kant a metafísica deixa de ser realista (a realidade pode ser
conhecida pelos sentidos) para se tornar idealista, ou seja, “a realidade
estruturada pelas idéias produzidas pelo sujeito” (Chauí, p. 201). A escola
idealista terá como seu maior representante o filósofo alemão Georg W.F. Hegel
(1770-1831) e ao longo do século XIX terá como opositora a escola de pensamento
materialista (Karl Marx, Ludwig Feuerbach, Friedrich Nietzsche, entre outros).
Um
dos principais aspectos da pós-modernidade é a morte da ideologia ou de
qualquer metanarrativa, seja religiosa (cristianismo e sua explicação da
história humana) ou política (o marxismo que pretendia estabelecer uma
sociedade comunista). Os acontecimentos históricos dos últimos 70 anos
mostraram à humanidade que a crença em constructos
quase metafísicos como “o progresso”, “a humanidade”, “a revolução”, só
trouxeram mais sofrimento e destruição ao invés do “paraíso terrestre”. As
Guerras, a evolução da tecnologia, e a falência das grandes ideologias políticas,
são fatos que ajudaram a formar nossa visão de mundo pós-moderno.
Os
pensadores em sua maioria se convenceram de que os sistemas políticos,
religiosos e filosóficos não podem mais apresentar uma explicação da realidade
nem indicar os caminhos que a humanidade deve seguir. Não se formulam mais
sistemas filosóficos; o que sobrou foi a pluralidade de idéias, opiniões e
pequenas narrativas, sob a égide do debate democrático. As verdades não existem
mais, “só interpretações”, como escreveu Nietzsche.
O
pensamento pós-moderno é herdeiro filosófico de Nietzsche e de Heidegger. De
Nietzsche o pensamento pós-moderno herdou a crítica a todo tipo de idealismo;
filosófico, ideológico e científico. A frase “Deus está morto” sintetiza a falência
de todos os fundacionismos e a impossibilidade do pensamento metafísico.
Heidegger, em parte herdeiro de Nietzsche, ainda aprofunda mais esta crítica,
colocando-a como fato dado. Ernildo Stein filósofo, discípulo e tradutor da
obra de Heidegger para o português fala em uma entrevista:
“
Talvez convenha dizer que Heidegger
finalmente, sem nehuma inibição, libertou o ser humano como ser no mundo de
qualquer amarra metafísica, deixando como tarefa sua, a instauração da verdade.
Heidegger declara que não há verdades absolutas ou literalmente ‘não há
verdades eternas’. A verdade só existe porque o ser humano opera com ela” (IHU
On-Line, s/d).
E
referindo-se especificamente à pós-modernidade:
“Assim como vivemos a
chamada pós-modernidade e nela identificamos a fragmentação de toda a unidade
entre a ciência, arte e religião, assim temos que reconhecer que, se ainda
procuramos razões que não sejam razões da ciência, essas não são mais razões ou
fundamentos metafísicos. O
pós-metafísico é um mundo sem fundamentos absolutos.” (IHU-On-line, s/d – negrito nosso)
Referência
A
escolástica pós-tomista. Disponível em:
A
superação da metafísica e o fim das verdades eternas. Disponível em:
Chauí,
Marilena. Convite à filosofia – 13ª edição. São Paulo. Editora Ática: 2006, 424
p.
(Imagens: fotografias de Franco Pinna)


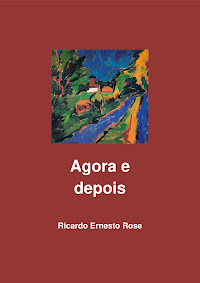














.jpg)

.jpg)


