"Muitos organismos unicelulares podem morrer, como resultado de acidentes ou inanição; na verdade, é o que acontece com a grande maioria. Mas não há neles nada de programado que diga que devam morrer. A morte não apareceu simultaneamente com a vida. Esta é uma das afirmações mais importantes e profundas da biologia. De qualquer forma, merece ser repetida: A morte não é inextrincavelmente entretecida com a definição de vida." - William R. Clark - Sexo e as origens da morte
Na economia neoclássica, para se referir a externalidades, é utilizada a expressão “economias externa” ou “deseconomias externas”; sempre no sentido de algo externo ao empreendimento que beneficia ou prejudica as atividades econômicas. Nesta interpretação, quando a empresa é solicitada a incorporar custos de uso de água ou taxas de poluição do ar ao seu produto, estaria ocorrendo uma “deseconomia externa”.
Uma das constatações que fizemos é que a identificação das externalidades, negativas ou positivas, depende do grau de desenvolvimento econômico, legal e cultural de uma sociedade. É a pressão econômica, que internamente ao país ou internacionalmente, exerce a maior influência para que as externalidades negativas não sejam contabilizadas. Assim, acontece que a inexistência de regras com relação à contabilização destas falhas de mercado, permite o surgimento de discrepâncias e injustiças no comércio e em outras atividades econômicas. Derrubar milhares de árvores no alargamento de uma estrada na floresta amazônica, por exemplo, pode ser considerada uma externalidade negativa desprezível. O mesmo fato, todavia, seria analisado de maneira diferente, se fosse realizado na região da Floresta Negra, na Alemanha.
As negociações internacionais de produtos agrícolas, pecuários e minerais, supridos pelas economias em desenvolvimento – geralmente aquelas que possuem uma rica biodiversidade – não prevêem o pagamento das externalidades negativas inerentes à produção e extração destas commodities; os impactos ambientais gerados por estas atividades. Cabe perguntar quanto custa um hectare de floresta amazônica desmatada, para servir de pasto a algumas cabeças de gado, cuja carne é destinada à exportação. Ou qual o preço de mil litros de água, necessários para produzir um quilo de soja? A natureza está sendo explorada e gerando uma mais-valia (no sentido da análise de Marx) que beneficia grupos econômicos; vendedores e compradores de commodities. Estes, por sua vez, repassam muito pouco para a comunidade cujo direito a um meio ambiente saudável, segundo a Constituição, está sendo expropriado à custa da não contabilização das externalidades nessas atividades. O assunto é bastante controverso e uma solução ainda está longe de ser encontrada. Ignacy Sachs escreve sobre o tema:
Na verdade não temos mais o direito de ignorar as bases físicas diferenciadas dos processos produtivos que levam ao mesmo valor de troca. Em particular, a dispersão do calor e a entropia passaram a representar uma dimensão demasiado importante da gestão ecológica do planeta para que o economista pudesse deixá-las de lado. Por outro lado, como veremos, os instrumentos tradicionais da caixa de ferramentas do economista não garantem a boa gestão dos recursos. O sistema de preços, por si só, não é capaz de internalizar o meio ambiente e a gestão dos recursos, a menos que, administrativamente, sejam impostos preços de dissuasão aos recursos potencialmente raros e não substituíveis por outros mais abundantes (SACHS, 2007, p. 79).
 Por vezes acontecem generalizações e fica a impressão de que economia ambiental e economia ecológica são expressões sinônimas e representam as mesmas correntes de pensamento. Tal interpretação não condiz aos fatos. Entre ambas, apesar de muitos pontos em comum, também existe uma visão politicamente diferente em relação à maneira de a humanidade ultrapassar a crise ambiental. Por outro lado, entre ambas também há uma avaliação diversa do papel da tecnologia e do futuro do sistema econômico. A economia ambiental, como já mencionado, segue basicamente a economia neoclássica, e tem uma visão circular da economia. A ciência sobre a qual baseia suas teorias econômicas é a mecânica clássica. Este ramo da economia não ignora os problemas ambientais e as situações relacionadas com a depleção dos recursos. No entanto, como sua abordagem é aquela da economia clássica, que interpreta estes problemas como externalidades do sistema que, se internalizadas por todos os agentes econômicos, estarão resolvidos. Em outras palavras, assume-se que assim que todos os poluidores resolverem tecnologicamente seus problemas, a questão ambiental estará equacionada. É evidente que a se manter o funcionamento da economia como está, este é um processo sem fim, já que a cada nova invenção surgem novos tipos de impactos ambientais. No entanto, a confiança da economia ambiental na tecnologia é grande e segundo ela nada impediria o progresso material de resolver gradualmente todos os problemas de poluição. Quanto aos recursos naturais, ainda segundo a economia ambiental, estes nunca faltarão por dois motivos principais. O primeiro é que através do desenvolvimento tecnológico aumentará a capacidade da humanidade em economizar recursos, a custos cada vez menores. O segundo é que no futuro, cada vez mais o trabalho e o capital, com a ajuda da tecnologia, poderão substituir os recursos naturais. Sendo assim, assume esta corrente econômica que os recursos naturais são infinitos, já que serão sempre substituíveis por sucessivas inovações tecnológicas.
Por vezes acontecem generalizações e fica a impressão de que economia ambiental e economia ecológica são expressões sinônimas e representam as mesmas correntes de pensamento. Tal interpretação não condiz aos fatos. Entre ambas, apesar de muitos pontos em comum, também existe uma visão politicamente diferente em relação à maneira de a humanidade ultrapassar a crise ambiental. Por outro lado, entre ambas também há uma avaliação diversa do papel da tecnologia e do futuro do sistema econômico. A economia ambiental, como já mencionado, segue basicamente a economia neoclássica, e tem uma visão circular da economia. A ciência sobre a qual baseia suas teorias econômicas é a mecânica clássica. Este ramo da economia não ignora os problemas ambientais e as situações relacionadas com a depleção dos recursos. No entanto, como sua abordagem é aquela da economia clássica, que interpreta estes problemas como externalidades do sistema que, se internalizadas por todos os agentes econômicos, estarão resolvidos. Em outras palavras, assume-se que assim que todos os poluidores resolverem tecnologicamente seus problemas, a questão ambiental estará equacionada. É evidente que a se manter o funcionamento da economia como está, este é um processo sem fim, já que a cada nova invenção surgem novos tipos de impactos ambientais. No entanto, a confiança da economia ambiental na tecnologia é grande e segundo ela nada impediria o progresso material de resolver gradualmente todos os problemas de poluição. Quanto aos recursos naturais, ainda segundo a economia ambiental, estes nunca faltarão por dois motivos principais. O primeiro é que através do desenvolvimento tecnológico aumentará a capacidade da humanidade em economizar recursos, a custos cada vez menores. O segundo é que no futuro, cada vez mais o trabalho e o capital, com a ajuda da tecnologia, poderão substituir os recursos naturais. Sendo assim, assume esta corrente econômica que os recursos naturais são infinitos, já que serão sempre substituíveis por sucessivas inovações tecnológicas.
Uma tecnologia recente que tem despertado grandes esperanças entre os defensores da economia ambiental é a nanotecnologia. De seu desenvolvimento se espera maravilhas, como a construção de nanofábricas cada vez mais complexas, das quais, segundo os pesquisadores desta tecnologia, poderia se estruturar qualquer coisa de praticamente qualquer matéria. No entanto, na posição de seus críticos – tendo em vista soluções para os problemas ambientais e uso dos recursos naturais – as perspectivas não parecem tão otimistas assim:
Em adição aos benefícios utópicos geralmente alardeados pelos tecnólogos, a nanotecnologia ou os promotores dela enfatizam uma grande e ampla gama de benefícios ecológicos, advindos dessa nova tecnologia, capitalizando a preocupação pública com o estado deteriorado da biosfera mundial. Lida-se com uma noção ingênua e conveniente de que os problemas ecológicos são primariamente de natureza tecnológica, e por isso podem ser resolvidos por soluções de engenharia, em vez de com uma estrutura social, e que requerem soluções econômicas e sociais. A falha de décadas de consertos tecnológicos para reverter ou mesmo para diminuir a destruição da ecologia tem sido ignorada, em favor da visão de que a próxima onda de inovações vai resolver os problemas, as descontinuidades do ecossistema e do sistema social (GOULD in Nanotecnologia, inovação e meio ambiente, 2005, p. 246).
A economia ecológica baseia suas análises da economia nos paradigmas da segunda lei da termodinâmica e na biologia. Por sua visão biologista da economia, influenciada pela ecologia, a economia ecológica também tem influências do darwinismo evolucionista. Este, segundo Cechin, é importante para a economia por pelo menos quatro motivos: 1) os sistemas econômicos, assim como os seres vivos, têm desenvolvimento bastante rápido, caracterizado por mudanças qualitativas e estruturais irreversíveis; 2) muitos aspectos das mudanças econômicas podem ser entendidos como alterações de populações; como nas empresas e nas mudanças de tecnologias; 3) os sistemas econômicos têm capacidade de aprendizagem e adaptação; 4) a evolução na estrutura organizacional da economia é um fenômeno real envolvendo instituições e agentes (CECHIN, 2010). Em relação à tecnologia a economia ecológica não tem uma confiança ilimitada e considera que esta não poderá não poderá ajudar a humanidade na reposição e substituição de recursos naturais. Basta olharmos o ritmo de consumo industrial, para verificar que este vem crescendo e que ocorrerá falta de diversos minerais nas próximas décadas. Em outro aspecto, por mais que reutilizássemos e reciclássemos certos materiais, não existe sistema produtivo que ao longo da sua cadeia tenha resíduo zero.
A expressão “desenvolvimento sustentável” é uma das mais debatidas – talvez até em demasia – pela mídia nos últimos anos. Todos os grandes grupos econômicos fazem questão de afirmar que estão investindo trabalho e dinheiro para alcançar o desenvolvimento sustentável. Especialistas – principalmente de origem americana – falam na triple bottom line, algo como a “tripla linha básica”, significando o atendimento das necessidades econômicas (da própria empresa), das necessidades ambientais (o que implica ao atendimento da legislação, pelo menos) e das necessidades sociais (necessidades dos funcionários e da comunidade). O objetivo último por trás da triple bottom line é atender requisitos ambientais (geralmente ações corretivas) e sociais (para estes não existem regras fixas, mas algumas instituições internacionais estabeleceram alguns parâmetros que podem ser seguidos), para que a empresa possa continuar funcionando, sem ser impedida de fazê-lo no futuro – sob a acusação de poluir o ambiente ou de explorar seus funcionários. Significativamente o conceito foi definido pela primeira vez pela Comissão Brundtland.
O “conceito do desenvolvimento sustentável” também foi estabelecido durante a Comissão Brundtland, no âmbito da Organização das Nações Unidas, em 1987. A Comissão à época fez uma série de propostas acordadas entre todas as nações, mas que em sua maior parte nunca foram seguidas. Uma das principais idéias da Comissão – e que de certo modo resume suas propostas – é que “o desenvolvimento sustentável é aquele que atende todas as necessidades da geração presente, sem comprometer as necessidades e o desenvolvimento das gerações futuras”. No entanto, de quais necessidades estamos falando? Daquelas do cidadão médio americano, ou do habitante da África e da Índia? Como reconhecer se as efetivas necessidades das pessoas estão sendo atendidas, como estabelecer limites para o desenvolvimento? Esta formulação nebulosa de princípios permite continuar mantendo as desigualdades regionais e nacionais.
A posição da economia ambiental é a de continuar com o crescimento da economia, da maneira e nos padrões como vem ocorrendo. Aos poucos, ao longo dos anos, serão feitos os ajustes necessários, na medida da disponibilidade das tecnologias e do capital de investimento. Política e economicamente a posição é conservadora, já que implica que o desenvolvimento econômico da humanidade (e com ele os impactos ambientais) está no caminho correto e não há necessidade de mudanças profundas no rumo da economia. A melhoria das condições, segundo esta linha de interpretação, virá naturalmente com o tempo. Esta, por razões óbvias, é a posição compartilhada pela maioria dos governos, por uma parte dos cientistas, pelas associações empresariais de todo o mundo e, evidentemente, pela totalidade das empresas. Não por acaso, é também a corrente que defende o “desenvolvimento sustentável” como algo factível.
Ainda com relação ao crescimento, a economia ecológica avalia com atenção a proposta do economista Herman Daly, que na década de 1970 defendeu a teoria do “estado estacionário” da economia. A idéia advoga uma economia que produz estoques constantes de bens e serviços, que são sistematicamente e anualmente adicionados aos estoques já existentes. Aliado a isto, haveria um controle populacional além de constante reutilização e reciclagem dos recursos já utilizados. A idéia não agradava a Georgescu-Roegen, que a considerava tão inviável quanto o crescimento constante (CECHIN, 2010). Ainda com relação ao “estado estacionário” existem muitas hipóteses, com várias propostas, envolvendo controle da população, planejamento da produção, controle de recursos e outras providências. O gerenciamento de tal processo, devido aos inúmeros detalhes que precisariam ser acompanhados, seria por demais complicado.
Caso prático de aplicação dos conceitos da economia ecológica é a agricultura orgânica e a agricultura sustentável. A agricultura orgânica representa uma alternativa à agricultura convencional, fruto da Revolução Verde. Na atividade agrícola convencional, o solo é arado, adubado com produtos químicos e periodicamente recebe aplicações de herbicidas e fungicidas. Este processo causa grandes danos ao solo, removendo a massa orgânica e envenenando-o com substâncias químicas aplicadas em excesso. Como alternativa à agricultura convencional, surgiu a agricultura orgânica; desenvolvida ao mesmo tempo na Alemanha, por Rudolf Steiner (1924), no Japão, por Motiki Okada (1933) e na Inglaterra em 1940, com o lançamento do livro Um Testamento Agrícola, por Albert Howard. No Brasil, a técnica começou a ser introduzida a partir da década de 70, em parte por influência das comunidades alternativas. A agricultura orgânica define o solo como um sistema vivo, que deve ser nutrido, mantendo a sobrevivência dos organismos benéficos ao solo (vermes, insetos, fungos e bactérias); todos necessários à reciclagem de nutrientes e produção de húmus. Os insumos químicos, prejudiciais ao ciclo biológico do solo, não são utilizados. A efetividade destes princípios é comprovada na prática: culturas orgânicas propiciam mais qualidade dos produtos colhidos, além de manter a diversidade biológica no solo e na área de cultivo, em comparação com a agricultura convencional.
Outro tipo de agricultura ecológica praticado desde os anos 1980 é a agricultura sustentável. A origem desta prática está, segundo Ehlers, na agroecologia, uma disciplina científica que estuda os agroecossistemas, ou seja, as relações ecológicas dentro de um sistema agrícola. As pesquisas avançaram e em meados dos anos 1980 o agrônomo Altieri, especializado em agricultura na América Latina, propôs técnicas agrícolas que fossem capazes de manter as características naturais do ambiente, sem desconsiderar as componentes sociais e econômicas da região (EHLERS, 2009). O enfoque sistemático deste tipo de agricultura foi um dos fatores que propiciou sua rápida difusão na região. Depois de vários estudos sobre a agricultura sustentável realizados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o processo foi aprovado e práticas alternativas, antes desprezadas, passaram a adquirir reconhecimento na comunidade agrônoma. Segundo Ehlers (2009), passou assim a ser critério para a agricultura sustentável: a) mínimo de impactos adversos ao meio ambiente; b) retornos financeiros adequados aos produtores; c) otimização na produção das culturas com um mínimo de produtos químicos; e d) satisfação das necessidades humanas de alimentos e atendimento das necessidades sociais das famílias e das comunidades rurais.
CONCLUSÃO
É inegável que o impacto das atividades humanas está destruindo a biosfera e exaurindo os recursos naturais. O crescimento da economia está baseado na maciça produção e consumo de bens com obsolescência programada e na valorização do supérfluo e do descartável. Isto acaba gerando imensas quantidades de resíduos que, mesmo com programas de redução e reciclagem, é um problema na administração das cidades de todo o mundo. O aumento da produção agrícola, necessária para alimentar a crescente população e atender a especulação financeira, fará com que o solo e os recursos hídricos se tornem improdutivos e contaminados. Os mares se transformaram em sumidouro de resíduos; em imensos tanques de petróleo desperdiçado. Por cima disso tudo, paira uma atmosfera cada vez mais quente devido ao aquecimento global, provocando catástrofes climáticas de violência crescente.
A economia ecológica, assim como outras ciências, procura entender o problema em todas as suas implicações, dentro da sua área de especialidade, e a seu modo contribuir com análises e soluções. A aplicação destas, no entanto, geralmente está na área de influência de governos e empresas, que serão cobrados pela história sobre a posição de seus países e das suas organizações em relação à preservação da biosfera e dos recursos naturais.
A crise ambiental e seus efeitos sociais é uma das conseqüências das injustas relações econômicas que continuam prevalecendo no mundo. Estas, apesar de atenuadas parcialmente nos últimos cinqüenta anos, ainda mantêm bilhões de pessoas na miséria, na ignorância e na ilusão de que uma vida mais humana é baseada no aumento do consumo.
Todas as iniciativas na área ambiental, recuperando e preservando os ecossistemas que ainda restam são importantes e urgentes. No entanto, é preciso que a crítica também faça o seu papel, apontando como o sistema econômico permite, promove e se beneficia com a destruição dos recursos naturais.
REFERÊNCIAS
BROWN, Lester. Eco-economia – Construindo uma economia para a Terra. Disponível em: <http://portal.mda.gov.br/portal/saf/arquivos/view/ater/livros/Eco-Economia.pdf>. Acesso em 21/07/10
BROWN, Lester. Plan B 4.0 – Mobilizing to save civilization. Disponível em: <http://www.earth-policy.org/images/uploads/book_files/pb4book.pdf >. Acesso em 21/07/10
CECHIN, Andrei. A natureza como limite da economia – A contribuição de Nicholas Georgescu-Roegen. São Paulo. Editora EDUSP / SENAC: 2010, 264 p.
DA VEIGA, José Eli. Mundo em transe – Do aquecimento global ao ecodesenvolvimento. Campinas. Editora Autores Associados: 2009, 118 p.
DA VEIGA, José Eli. Meio Ambiente & Desenvolvimento. São Paulo. Edit. Senac: 2006, 180 p.
DE MORAES, José Orozimbo. Economia Ambiental. São Paulo.Centauro Editora: 2009, 224 p.
EHLERS, Eduardo. O que é agricultura sustentável. São Paulo Editora Brasiliense: 2009, 92 p.
GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. La décroissance – Entropie – Écologie – Économie. Disponível em: <http://classiques.uqac.ca/contemporains/georgescu_roegen_nicolas/decroissance/decroissance.html>. Acesso em 3/07/10
MARTINS, Paulo Roberto. Coordenador. Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente. São Paulo. Associação Editorial Humanitas: 2005, 286 p.
MOTTA, Ronaldo Seroa. Economia Ambiental – 5ª. Ed. Rio de Janeiro. Editora FGV: 2009, 225 p.
MUMFORD, Lewis. A cidade na história. São Paulo. Martins Fontes: 1998, 741 p.
PENTEADO, Hugo. Ecoeconomia – Uma nova abordagem. São Paulo. Lazuli Editora: s/d, 239 p.
VIEIRA, Paulo Freire, org. Ignacy Sachs – Rumo à Ecossocioeconomia. São Paulo. Cortez Editora: 2007, 472 p.
(Imagens: fotografias de esquimós, século XIX)


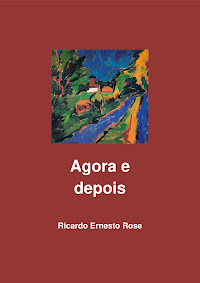


















.jpg)

.jpg)


