"Ter senso histórico é superar de modo consequente a ingenuidade natural que nos leva a julgar o passado pelas medidas supostamente evidentes de nossa vida atual, adotando a perspectiva de nossas instituições , nossos valores e verdades adquiridos. Ter senso histórico significa pensar expressamente o horizonte histórico coextensivo à vida que vivemos e seguimos vivendo." - Hans-Georg Gadamer e Pierre Fruchon (org.) - O problema da consciência histórica
O texto "Reflexões sobre a Racionalidade Científica: problemas, apostas e propostas" é de autoria de Daniel
Durante Pereira Alves, professor de filosofia na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Neste curto artigo comentaremos este trabalho, que analisa a atividade científica e a epistemologia.
No
início de seu texto o autor afirma querer fazer uma crítica sobre alguns
aspectos cognitivos da ciência, em seus pressupostos herdados de Descartes e
defendidos pelo empirismo lógico. O texto também pretende apontar a conexão
íntima existente entre certos problemas epistemológicos e éticos, considerando
a extrema interrelação entre ambos. Em sua argumentação, o texto elabora uma
crítica ética da ciência, dadas as “conseqüências muitas vezes nocivas do
conhecimento científico”. Assim, para iniciar sua apresentação, o autor começa
seu texto com uma explicação do que considera as características mais
fundamentais da racionalidade científica hegemônica: o atomismo e o método axiomático.
O
conhecimento científico é socialmente construído e não “temos nenhum motivo
intransponível que nos impeça de procurarmos novas formas de fazer ciência”. A
ciência é uma construção histórica e sua maneira de ser feita não se deve
necessariamente à natureza ou a estrutura de nossa racionalidade
(racionalismo). Esta visão da prática científica, baseada no construtivismo,
não se fundamenta em nenhuma teoria sobre a realidade (ontologia), mas na
prática do sujeito; em seu próprio ponto de vista. Assim, as diferentes
interpretações da natureza são baseadas na interação do observador com o mundo;
construções (constructos) que visam dar sentido aos seus projetos subjetivos. O
conhecimento científico não é uma descrição exata da realidade; trata-se muito
mais de uma teoria descritiva que na prática funciona.
 Um
dos fundamentos da teoria científica é baseado no atomismo de Demócrito: o
átomo (ou outras partículas e subpartículas) como sendo as últimas partes
constituintes da realidade. A epistemologia atomista leva a uma visão dualista
da realidade, formada pela interação entre o sujeito (o que observa a
realidade) e o objetivo (tudo o que é observado). Outro fundamento do
pensamento científico é o método axiomático, herdado do geômetra Euclides e desenvolvido
pelo pensador francês do século XVII René Descartes. Segundo esta metodologia
de análise – mais tarde aplicada por Descartes também à geometria analítica –
os problemas devem ser desmembrados em partes, de modo a facilitar sua
apreensão. Desta forma, segundo o autor, pode-se ver a teoria científica como
um conjunto de propostas (axiomas da antiga geometria euclidiana), organizados
na forma de um todo harmônico, capaz de explicar certo fato científico.
Um
dos fundamentos da teoria científica é baseado no atomismo de Demócrito: o
átomo (ou outras partículas e subpartículas) como sendo as últimas partes
constituintes da realidade. A epistemologia atomista leva a uma visão dualista
da realidade, formada pela interação entre o sujeito (o que observa a
realidade) e o objetivo (tudo o que é observado). Outro fundamento do
pensamento científico é o método axiomático, herdado do geômetra Euclides e desenvolvido
pelo pensador francês do século XVII René Descartes. Segundo esta metodologia
de análise – mais tarde aplicada por Descartes também à geometria analítica –
os problemas devem ser desmembrados em partes, de modo a facilitar sua
apreensão. Desta forma, segundo o autor, pode-se ver a teoria científica como
um conjunto de propostas (axiomas da antiga geometria euclidiana), organizados
na forma de um todo harmônico, capaz de explicar certo fato científico.
No
entanto, ao longo do desenvolvimento da ciência e da matemática durante os
últimos 350 anos, foram aparecendo fatos que gradualmente colocaram em cheque a
visão ortodoxa da racionalidade científica. O matemático Kurt Gödel (1906-1978)
provou com seu Teorema da Incompletude, que resumidamente diz que em um sistema
de axiomas auto-consistentes sempre existirão proposições que não poderão ser
comprovadas pelo sistema, ou seja, o sistema é incompleto e incapaz de dar uma
explicação total às questões que ele mesmo coloca. Outro exemplo é dado pela
física de partículas, com o Princípio de Indeterminação, elaborado pelo físico
Werner Heisenberg (1901-1976). Segundo este princípio, nunca será possível
determinar a posição e a velocidade de um elétron. Isto porque, o fóton emitido
pelo equipamento de medição já tira o elétron de sua posição original. O mesmo
acontece se os cientistas tentarem medir o sentido de sua rotação (spin).
Na
física quântica também ocorrem fenômenos que colocam em cheque muitos aspectos
da suposta racionalidade da ciência: partículas que têm o mesmo comportamento
como se formassem pares, mesmo que situadas a longas distâncias. Outras que têm
um comportamento completamente aleatório, imprevisível. Isso tudo sem falar nos
paradoxos (aparentes) da Teoria da Relatividade, segundo a qual objetos se
deslocando a velocidades diferentes em relação a um mesmo ponto de referência,
têm diferente percepção do desenrolar do tempo.
Em
suma, a visão de que a realidade material pode ser explicada através de teorias
simples, num encadeamento lógico que ganha em complexidade, não é mais
possível. A matemática e a física têm levantado tantas questões, que a ciência
convencional – e com ela a epistemologia – já não pode mais explicar a
realidade.
 Outro
aspecto que o autor levanta é com relação à ética na ciência. O desenvolvimento
científico, além de não resolver grande parte dos problemas sociais, acabou
criando novos; como os impactos ambientais, as armas de destruição em massa ou
o descontrole da prática científica (os perigos da nanotecnologia e da inteligência
artificial sem limites). Além disso, aponta o artigo o problema da
superespecialização de setores da ciência, gerando um conhecimento cada vez
mais fragmentado, compartimentado, com profusão de teorias; situação
característica do modelo axiomática de ciência.
Outro
aspecto que o autor levanta é com relação à ética na ciência. O desenvolvimento
científico, além de não resolver grande parte dos problemas sociais, acabou
criando novos; como os impactos ambientais, as armas de destruição em massa ou
o descontrole da prática científica (os perigos da nanotecnologia e da inteligência
artificial sem limites). Além disso, aponta o artigo o problema da
superespecialização de setores da ciência, gerando um conhecimento cada vez
mais fragmentado, compartimentado, com profusão de teorias; situação
característica do modelo axiomática de ciência.
O
autor também coloca a questão sobre quais interesses estão por trás da prática
científica. Além de sua função utilitária de fazer prognósticos, a quem servem
estes prognósticos? Se a ciência reflete os projetos e interesses do observador,
de que observador estamos falando? Recomenda o autor que a ciência não seja
distante da ética e que seja mais responsável e reflexiva, considerando que há
uma crescente desconfiança por parte da opinião pública em relação à prática
científica.
Paralelamente
desenvolvem-se novas visões do pensamento científico; mais abrangentes e
englobando idéias como a transdisciplinaridade, o pensamento complexo, a
holística, ultrapassando os paradigmas do atomismo e do método axiomático. Ao
invés de “prognosticar para manipular e controlar” as novas correntes
epistemológicas são orientadas para “mapear para equilibrar e dar autonomia”. A
frase do autor conclui nosso texto: “Ainda que tenhamos nos concentrado neste
ensaio apenas nos aspectos epistemológicos e éticos da ciência, ela é uma
atividade coletiva e social, sendo este aspecto extremamente importante para
qualquer consideração, pois a ciência só mudará quando os cientistas mudarem,
quando nós, coletivamente, aceitarmos e praticarmos novas formas de cientificidade.”
(Imagens: fotografias de Ricardo E. Rose)


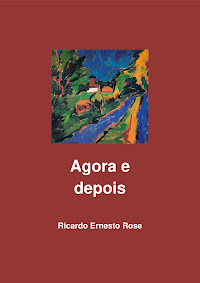







.jpg)

.jpg)



0 comments:
Postar um comentário