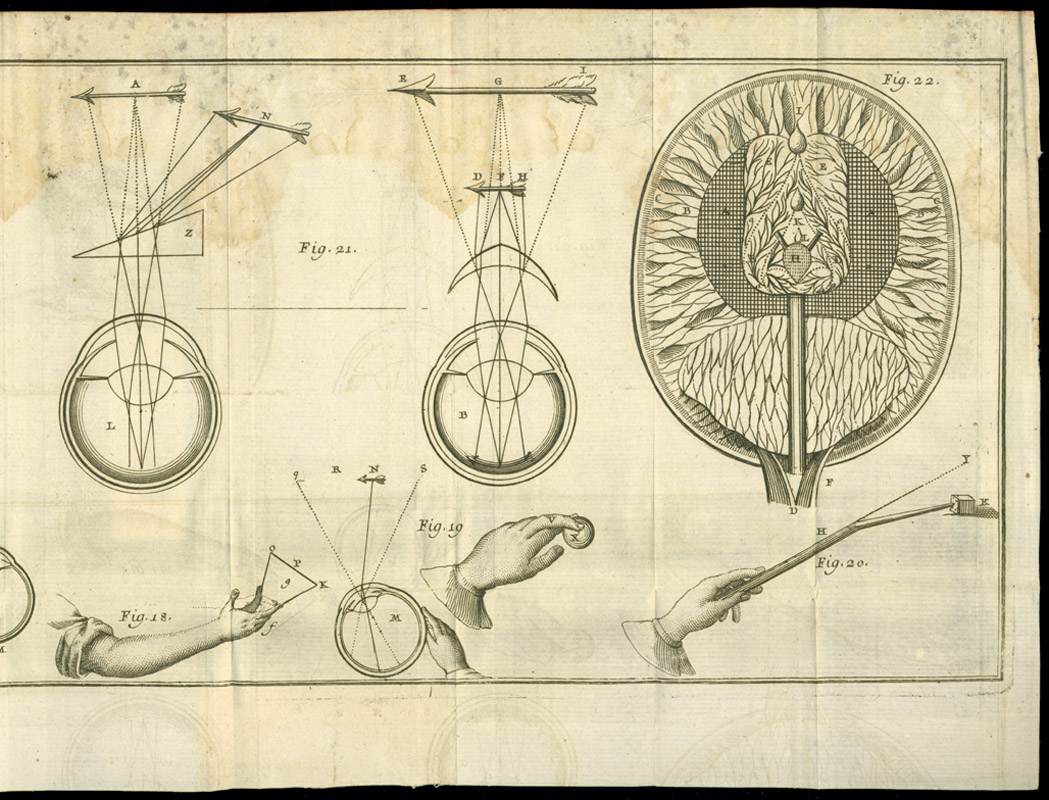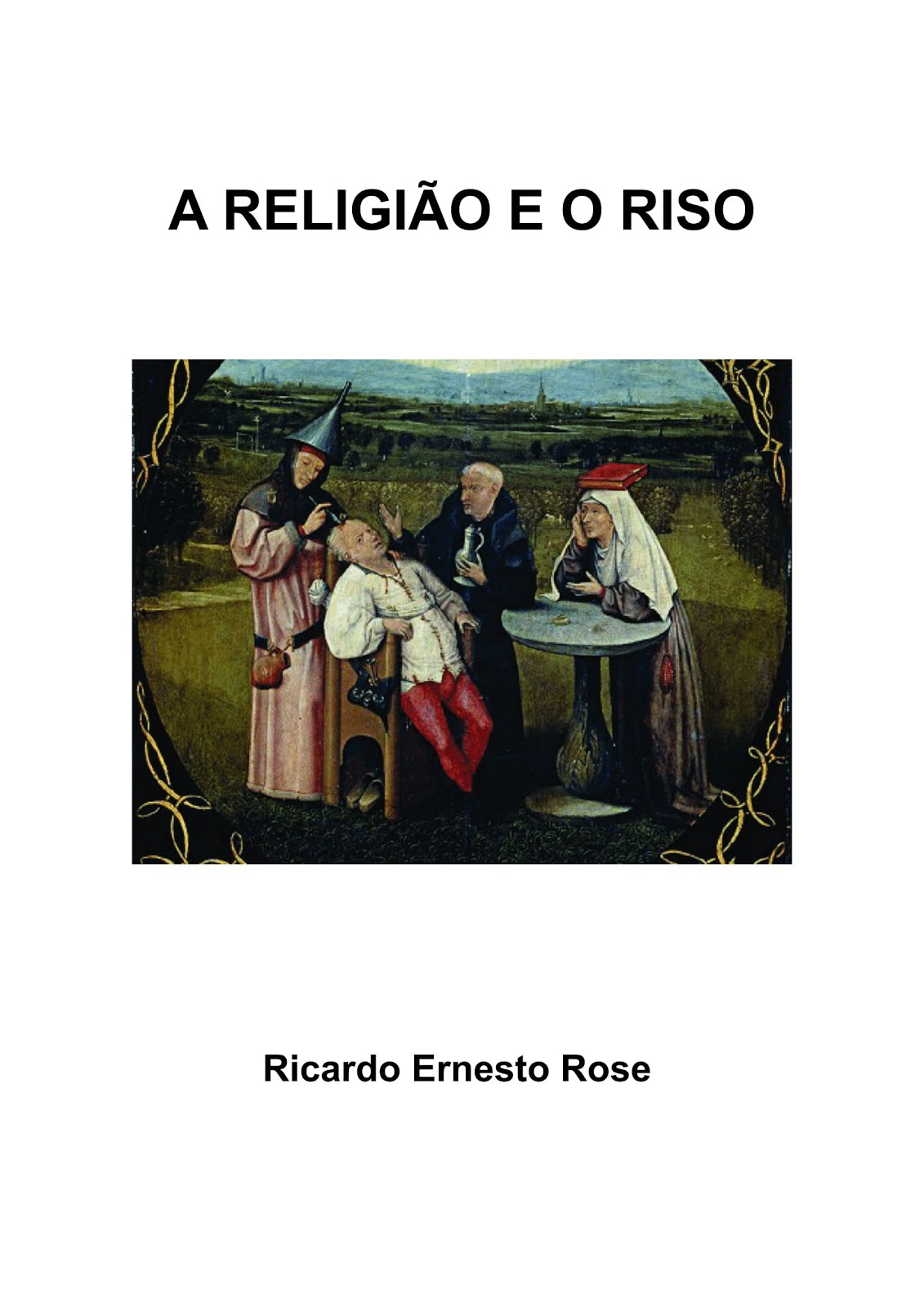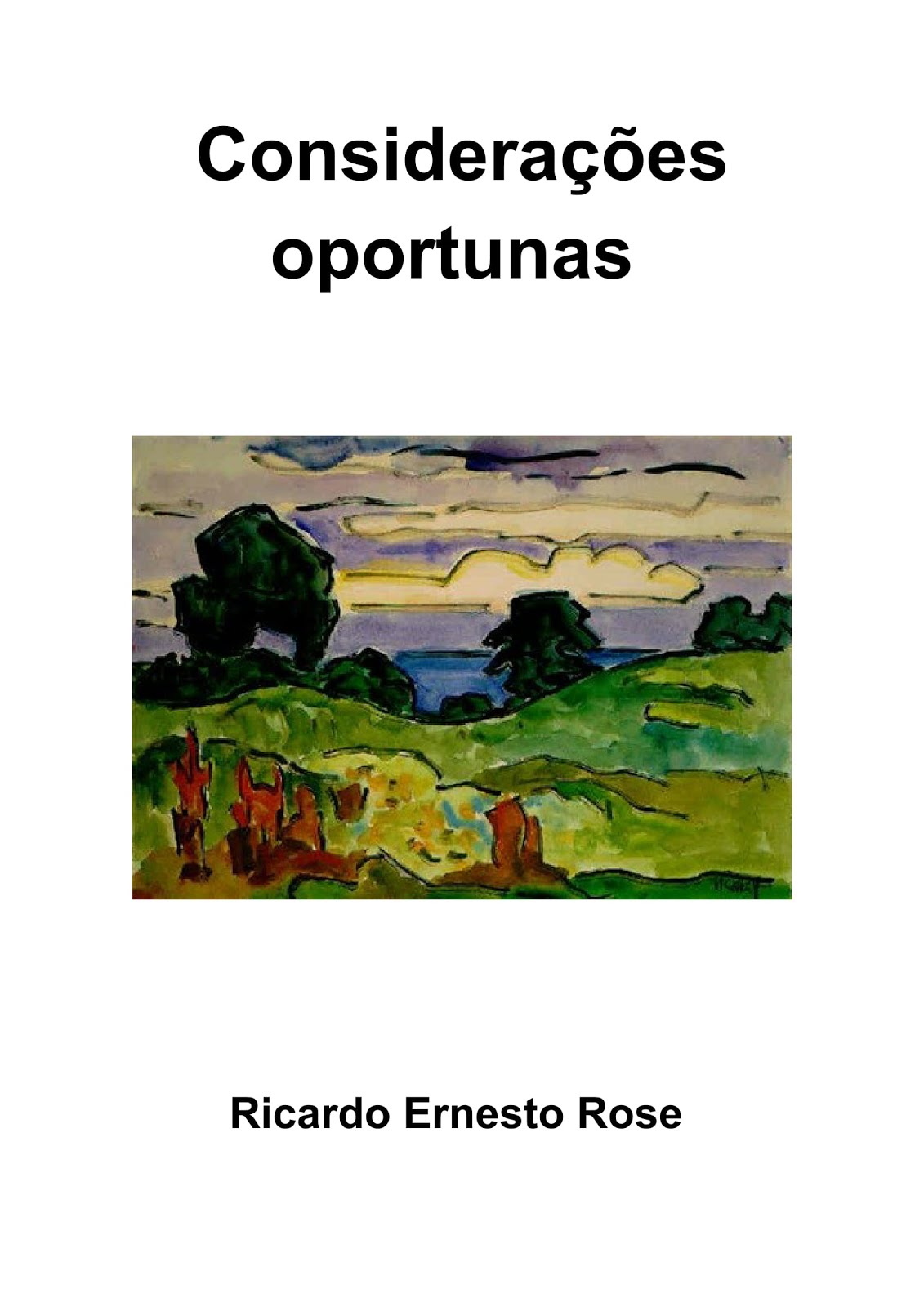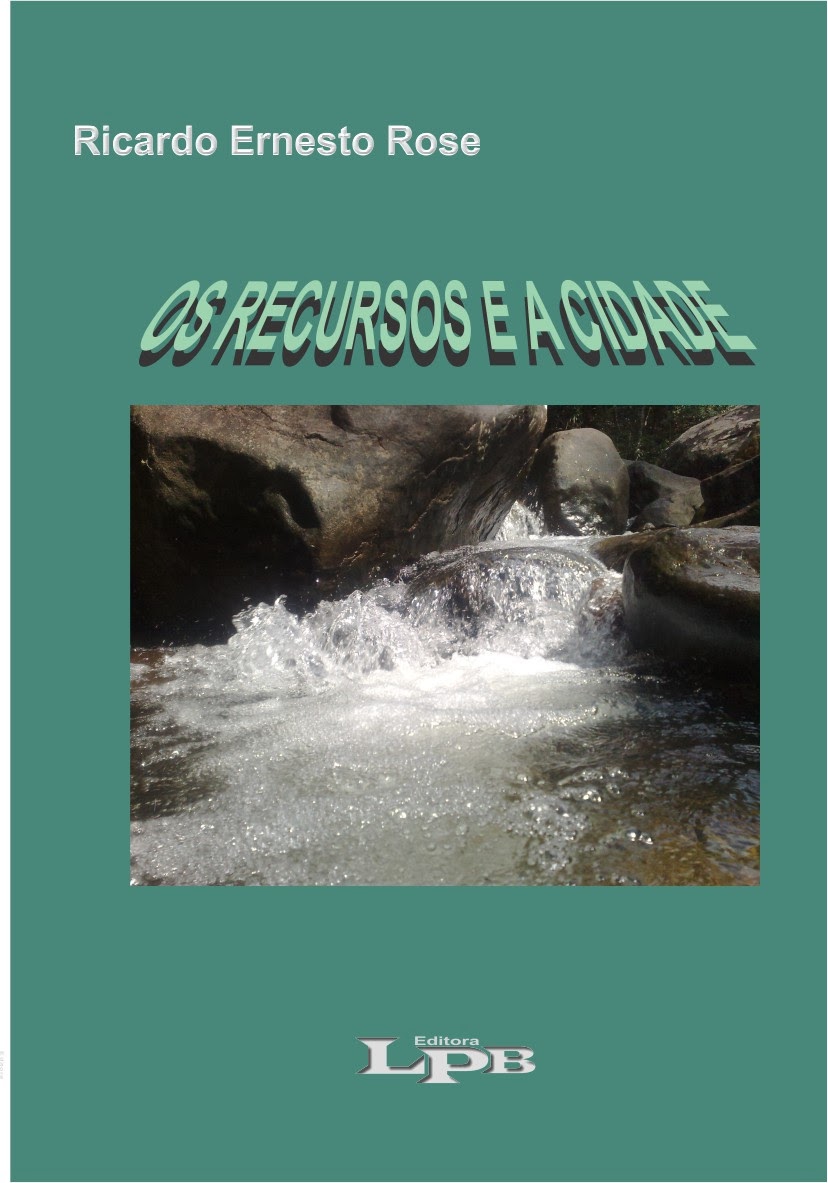O ensino da filosofia tornou-se novamente obrigatório por força da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1997) e da Lei 11.684 de 2/6/2008. O ensino da matéria já era reclamado há muitos anos, desde que se tornou matéria optativa em 1968, sendo excluída dos currículos em 1971, com a Lei 5.692/71, durante o período da ditadura militar.
A estratégia por trás da abolição do ensino da filosofia era evidentemente político. A filosofia, pelas características de seu ensino, promove o debate, a análise dos fatos; práticas pouco incentivadas em regimes autoritários. Manter o espírito crítico dos estudantes paralisado era uma das maneiras de fazer com que a parcela instruída da população aceitasse o sistema político-econômico implantado pelo golpe de Estado de março de 1964. Vale lembrar que o ensino público daquela época ainda tinha um bom nível e formava grande parte da população instruída.
A abolição (ou proibição velada) do ensino da filosofia dava-se em uma situação política e econômica mundial bastante característica. O mundo era dominado por dois blocos antagônicos. De um lado, o sistema comunista, liderado pela União Soviética, seguida de seus países satélite. De outro o regime capitalista, auto proclamado “mundo livre” (o que, todos sabiam, era uma farsa, já que era formado por uma série de ditaduras militares), capitaneado pelos Estados Unidos e seus acólitos europeus. O embate destas duas forças econômica e politicamente antagônicas era chamado de Guerra Fria.
O próprio contexto da Guerra Fria era desfavorável ao debate filosófico. De ambos os lados a liberdade de expressão era pouco valorizada e o debate era proibido, ou tolerado no melhor dos casos. Escrevendo neste período, um dos filósofos mais lidos à época e ídolos das revoltas estudantis de 1968 (nos EUA, México, Brasil, Argentina, França, Alemanha e vários outros países), Herbert Marcuse, afirmava: “Numa sociedade baseada no trabalho alienado, a sensibilidade humana está embotada: os homens só percebem as coisas nas formas e funções em que lhes são dadas, feitas, usadas pela sociedade existente; e só percebem as possibilidades de transformação tal como são definidas e limitadas na sociedade existente” (Marcuse, 1973).
Além disso, a maior parte da filosofia das décadas de 1960 e 1970 tinha influência do estruturalismo e, principalmente, do marxismo, sendo muito crítica em relação à estrutura capitalista. Mais um motivo para desfavorecer o ensino e o debate filosófico. Fato interessante é que foi exatamente neste período de exceção, quando não havia ensino da filosofia no Brasil, que foi lançada pela primeira vez a coleção de textos filosóficos clássicos “Os Pensadores”, pela editora Abril, no início dos anos 1970.
O período entre 1964 e 1984 foi de repressão cultural; proibição de livros, filmes, peças de teatro. Jornais (tablóides) de caráter político e cultural, que por vezes traziam artigos sobre temas filosóficos – como Versus, Ex, Politika, Opinião, Pasquim – eram censurados e, eventualmente, confiscados pela Polícia Federal e pelo DOPS (a temida Delegacia de Ordem Política e Social).
A cultura e o estudo da filosofia só sobreviveram porque ainda havia um número suficiente de pessoas que – formadas em grande parte na antiga escola pública – se interessava pelo assunto.
Voltou a democracia (1984), caiu o Muro de Berlim (1989) e com ele todo o sistema de socialismo de Estado (eufemisticamente chamado de comunismo). O livre-mercado (leia-se neoliberalismo) se expande em todo o mundo. Instala-se um sistema econômico e social voltado para a produção e o consumo exagerado, mesmo que às expensas dos recursos naturais e de milhões de subempregados e miseráveis.
É neste contexto social e econômico que ressurge o interesse pelo ensino da filosofia no Brasil. Qual o significado deste retorno? Porque não voltou também o ensino do latim, do francês e de outras matérias? Dadas as condições sociais e econômicas é compreensível que o latim e o francês não seriam muito producentes; teriam pouca aplicabilidade para os alunos em sua carreira futura.
Mas, e a filosofia? Que ela tenha uma função de integração de conhecimentos, que seja instrumento de análise e de crítica da realidade, é ponto pacífico; isto consta em qualquer manual para iniciantes no estudo da matéria. Mas, chegaremos efetivamente a isto? Conseguiremos formar estudantes que com o estudo da filosofia tenham uma visão mais crítica da sociedade, de seu papel no mundo?
Louis Althusser em sua obra “Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado” faz uma análise do que seriam os aparelhos ideológicos de Estado (aiE) e sua função. Os aiE, segundo os lista, são instituições como: Igrejas; sistemas escolares públicos e privados; ambiente familiar, instituições jurídicas; o sistema político e seus diversos partidos; a organização sindical; a informação (imprensa, TV, rádio) a cultura (artes, desportos). A função dos aiE é de formar a mente dos cidadãos; influenciá-los. Escreve Althusser: “Mas vamos ao essencial. O que distingue os aiE do aparelho repressivo do Estado é a diferença fundamental seguinte: o aparelho repressivo de Estado funciona pela violência, enquanto os aiEs funcionam pela ideologia.” (Althusser, 1974).
Assim, a pergunta que se faz não é “É possível ensinar filosofia no ensino médio?”, mas “A quem interessa (ou não) o ensino da filosofia no ensino médio e em que condições?” Outra questão que se coloca é se claramente existe a vontade política em promover o ensino e, especificamente, o ensino da filosofia. Existe efetivamente interesse por parte dos grupos dominantes – os que dominam os aparelhos ideológicos de Estado que Althusser menciona – em formar cidadãos capacitados e críticos? Darcy Ribeiro escreveu referindo-se ao ensino: “...o pressuposto mais importante para a sobrevivência e manutenção do poder de nossa classe dominante constituía em manter o povo na ignorância. Ter um povo ignorante é naturalmente o melhor que se pode imaginar em um mundo onde o ensino é oferecido de maneira tão superficial e despreocupado. Se o povo é mantido na ignorância, não será capaz de eleger seus representantes políticos...” (Ribeiro, 1980, tradução minha).
Há intenção real em se promover o ensino da filosofia? Se este é o caso, ela poderá contribuir para um debate sobre a situação sócio-econômica do País? Ainda em caso afirmativo, o que se pretenderá com este debate? Mudanças, ou a simples constatação de que temos muitos problemas, temos algumas possíveis soluções, mas falta iniciativa para sua efetivação?
Talvez esteja aí um tema de debate para a filosofia brasileira: quem estabelece a “agenda” política, social e econômica do País?
Bibliografia:
Ribeiro, Darcy, Ungewöhnliche Versuche (Ensaios Insólitos), Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1980, 396 p.
Althusser, Louis, Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado, Editorial Presença, Lisboa, 1974, 120 p.
Marcuse, Herbert, Contra-Revolução e Revolta, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1973, 129 p.
Pimenta, A., Ensino de filosofia no Brasil: um estudo introdutório sobre sua história, método e perspectiva, disponível em: consulta em 19/03/09
http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=view&id=265&Itemid=255 Consulta em 19/03/09